Fichamento: Judicialização da Saúde
| Site: | Moodle USP: e-Disciplinas |
| Curso: | Fato Epidemiológico-Legal (2017) |
| Livro: | Fichamento: Judicialização da Saúde |
| Impresso por: | Usuário visitante |
| Data: | sábado, 29 jun. 2024, 07:51 |
Descrição
Texto de Luis Barroso
JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE
 O fenômeno da "judicialização da saúde", como ficou conhecida a intervenção do Poder Judiciário sobre a atividade desenvolvida pela Administração Pública, o ponto de interação entre o conhecimento jurídico e o epidemiológico, que tem sido tratado como
contenda entre a defesa do direito fundamental à saúde e a ofensa à separação dos Poderes. Entretanto, as políticas públicas relacionadas à saúde não comportam tamanha intervenção na prestação estatal, que atinge o planejamento e o custeio das ações,
considerando a falta de critérios para subsidiar as decisões judiciais, que proliferam como uma epidemia, segundo a fala do Desembargador Renato Nalini, impregnadas de extravagância e de emotividade, sentenciando a execução de tratamentos irrazoáveis,
à aquisição de medicamentos experimentais ou terapias alternativas. Estes excessos colocam em risco a continuidade das políticas pública de saúde, criando um fato administrativo que impede a alocação racional de recursos, podendo ser compreendido como
concessão de privilégios a alguns em detrimento da cidadania. Cria-se, então, um paradigma:
O fenômeno da "judicialização da saúde", como ficou conhecida a intervenção do Poder Judiciário sobre a atividade desenvolvida pela Administração Pública, o ponto de interação entre o conhecimento jurídico e o epidemiológico, que tem sido tratado como
contenda entre a defesa do direito fundamental à saúde e a ofensa à separação dos Poderes. Entretanto, as políticas públicas relacionadas à saúde não comportam tamanha intervenção na prestação estatal, que atinge o planejamento e o custeio das ações,
considerando a falta de critérios para subsidiar as decisões judiciais, que proliferam como uma epidemia, segundo a fala do Desembargador Renato Nalini, impregnadas de extravagância e de emotividade, sentenciando a execução de tratamentos irrazoáveis,
à aquisição de medicamentos experimentais ou terapias alternativas. Estes excessos colocam em risco a continuidade das políticas pública de saúde, criando um fato administrativo que impede a alocação racional de recursos, podendo ser compreendido como
concessão de privilégios a alguns em detrimento da cidadania. Cria-se, então, um paradigma:
-
PARTE I : premissas doutrinárias do direito
-
PARTE II : o direito à saúde no Brasil
-
PARTE III : interferência do Poder Judiciário
Parte I
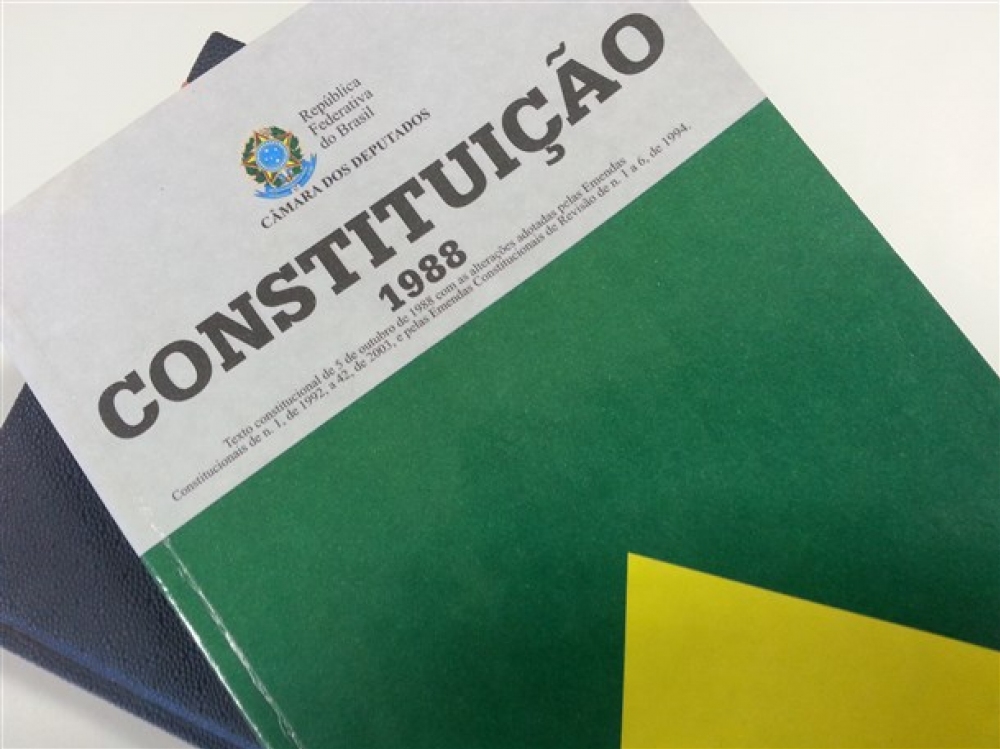
O fato administrativo criado pela intervenção do Poder Judiciário , sobre a prestação constitucional relacionada ao direito à saúde, tem implicações na atividade da Administração Pública, desafiando fundamentos principiológicos, tanto do Direito Administrativo quanto do Direito Constitucional. Cumpre lembrar que os atos da Administração Pública devem ser fundados nos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, proporcionalidade e eficiência. Destacam-se, neste contexto, a chamada "doutrina brasileira da efetividade" e a "teoria dos princípios".
Entretanto, convém expor o dilema existente entre direitos fundamentais individuais e direitos fundamentais coletivos em relação à saúde, para que a interpretação e a argumentação sejam baseadas em premissas válidas.
direitos individuais
O Art.5o. da Constituição Federal de 1988 apresentam os direitos fundamentais individuais, que são identificados como direitos a ser defendidos contra o Estado, com característica de não fazer. No caput encontra-se a "inviolabilidade do direito à vida", que é o mais básico dos direitos fundamentais individual; este direito pode ser dividido em duas vertentes: o direito de continuar a existir e o direito a um nível adequado de vida. A saúde é um atributo indissociável do direito à vida.
Decorrem o direito à dignidade da pessoa humana, à igualdade, às liberdades públicas, às garantias da legalidade, à privacidade, à propriedade, à presunção de inocência e individualização da pena, ao acesso ao Poder Judiciário, ao devido processo legal, à segurança jurídica, à proporcionalidade/razoabilidade, à nacionalidade e à formação de partidos políticos.
direitos sociais

Os direitos sociais, descritos no Art.6o da Constituição Federal de 1988, visam o oferecimento dos meios materiais mínimos e imprescindíveis à realização dos direitos fundamentais individuais, implicando prestações de dever fazer por parte do Estado, demandando investimento de recursos financeiros.
O direito à saúde está previsto entre os direitos sociais, juntamente com a educação, a moradia, o trabalho, o lazer, a segurança, a presidência social, a proteção da maternidade e da infância e a assistência social.
Existe a "dupla natureza" dos direitos fundamentais, que procuram reconhecer uma função de direitos subjetivos e também de princípios de ordem constitucional, que geram consequências como a eficácia irradiante, que condiciona todo o ordenamento jurídico, e a teoria dos deveres estatais de proteção, que pressupõe o Estado como parceiro na realização dos direitos fundamentais.
premissas doutrinárias
A doutrina brasileira da efetividade representou um movimento jurídico-acadêmico, que defendeu o reconhecimento da força normativa das normas constitucionais, tornando-as aplicáveis direta e imediatamente. É característica importante da norma jurídica a imperativatividade, cuja violação ocorre por ação ou por omissão; tendo ocorrido a violação, a tutela do direito, seja individual ou coletivo, e a restauração da ordem jurídica serão alcançadas pela ação e pela jurisdição, tornando o Poder Judiciário competente para agir e para decidir sobre a concretização da norma constitucional. Sugiram, então, a doutrina da efetividade e a teoria dos princípios, para dar sustentação ao movimento jurídico-acadêmico.
Teoria da Efetividade - resultou de metodologia positivista, considerando que o direito constitucional é norma, e como norma é para ser seguida, sendo exigível porque está na Constituição.
Teoria dos Princípios - surgiu da associação com direitos fundamentais, reconhecendo a distinção qualitativa entre regras e princípios; as regras se aplicam na subsunção, produzindo o efeito previsto, como mandados ou comandos definitivos; os princípios abrigam um valor ou uma finalidade, e a Constituição, como contrato social, apresenta direcionamentos diferentes, possibilitando o conflito entre normas.
Tanto uma quanto a outra teoria devem ser usadas pelo magistrado em sua interpretação dos fatos, sem que lhe seja permitido impor sua própria valoração, a menos que esteja convencido.
colisão de normas

Quando incidirem interpretações diferentes sobre o conteúdo de normas ou de princípios constitucionais, podem ocorrer:
- colisão entre princípios constitucionais, como a livre iniciativa versus a proteção do consumidor, quando se pretende tabelar o preço de determinado medicamento;
- colisão entre direitos fundamentais, como o direito à vida e à saúde de uma pessoa versus o direito à vida ou à saúde de outras pessoas, quando houver urgência;
- colisão entre direitos fundamentais e princípios constitucionais, como o direito à saúde versus a separação de Poderes, quando houver deliberações legais ou administrativas sobre tratamentos a serem garantidos.
Como estas normas estão em rota de colisão, tendo a mesma posição hierárquica no ordenamento jurídico, caberá à autoridade fazer a ponderação dos princípios e fatos relevantes, e não a subsunção do fato a uma regra.
constitucionalismo e democracia

O constitucionalismo representa a limitação de poderes e a supremacia da norma jurídica; a democracia confere a soberania popular e o governo legitimado pela maioria. Entretanto, ocorrem inconsistências entre o governo para a maioria e o estado de direito, pois a vontade da maioria não pode provocar a violação de direitos fundamentais ou de princípios constitucionais.
O Estado democrático de direito tem a dignidade da pessoa humana e nos direitos fundamentais seu centro de gravidade. É a partir da dignidade da pessoa humana que se irradiam os direitos fundamentais, como a origem de tais direitos (direito natural). Os direitos fundamentais garantem a liberdade, a igualdade e o mínimo existencial, que devem ser realizados pelos três Poderes.

A democracia se opera pela atuação dos Poderes Legislativo e Executivo, que representam a soberania popular, na elaboração de leis, na alocação de recursos para as políticas públicas, incluindo a educação, a saúde, a segurança, o trabalho etc; o Poder Judiciário não representam a população, mas fazem cumprir o ordenamento jurídico vigente.
Pergunta: pode o juiz ou o tribunal, membros do Poder Judiciário, interferir com as deliberações dos órgãos de representação democrática, isto é, os Poderes Legislativo e Executivo? Isto poderia caracterizar violação da separação de poderes?
Parte II
Direito à saúde é um instituto recente no Brasil, pois antes do SUS não havia um sistema de assistência à saúde inclusivo de toda a população brasileira, apenas aos trabalhadores que tinham carteira de trabalho válida.
A Constituição cidadã orientou os direitos fundamentais relativos à saúde, respeitando o direito natural à vida e ao mínimo necessário para a sobrevivência humana digna. Para tanto, as competências de cada ente federado foi definido, mas não por completo. A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal devem estar articulados para oferecer serviços de saúde com qualidade, eficácia e custo-benefício.
A Lei n.8.080/90 instituiu o Sistema Único de Saúde.
breve histórico
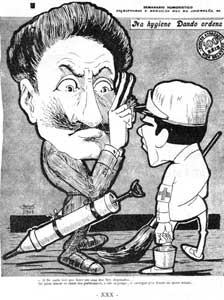
As atividades de Saúde Pública foram iniciadas no Brasil no século XIX, com a criação da Sociedade de Medicina e Cirugia do Rio de Janeiro e as primeira escola de medicina na Bahia (1808) e no Rio de Janeiro (1809). Tal fato ocorreu com a chegada da Corte Portuguesa na colônia. Somente entre 1870 e 1930 é que passaram a praticar ações efetivas no campo da saúde, por meio de uma modelo de campanhas, à semelhança do que se tem hoje, caracterizado pelo uso da autoridade e da força policial. Na década de 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, juntamente com os Institutos de Previdência (IAP) que ofereciam serviços de saúde curativa, beneficiando apenas trabalhadores que contribuíam para os referidos Institutos.
Ao longo do regime militar os IAP's foram unificados com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), para quem contribuíam os trabalhadores urbanos, que poderiam usar a rede pública de assistência à saúde. Não era um sistema universal, isto é não era um sistema que assistia todas as pessoas da população, mas uma parcela de contribuintes.
Foi a partir da Constituição federal de 1988 que o Sistema Único de Saúde (SUS) foi implantado, que do art.196 estabeleceu a saúde como "direito de todos e dever do Estado" e o "acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
competências

O pacto federativo envolveu a repartição de competências, para legislar sobre o direito à saúde, quando a Lei complementar no. 8.080/90 instituiu o SUS. A Constituição Federal estabeleceu a competência concorrente entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, isto é, compete aos entes federativos legislar simultânea e harmonicamente sobre matéria atinente ao direito à saúde.
À União cabe o estabelecimento de normas gerais; aos Estados, suplementar a legislação federal; aos Municípios, legislar sobre assuntos de interesse local, podendo suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber.
A Lei n.8.080/90 definiu o que cabe a cada ente federativo. À direção nacional do SUS, atribuiu a competência de "prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, do distrito Federal e aos Municípios, para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional"; à direção estadual do SUS, promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde, de lhes prestar apoio técnico e financeiro, e de executar supletivamente ações e serviços de saúde; à direção municipal do SUS, planejar, organizar, controlar, gerir e executar os serviços púbicos de saúde.
medicamentos

A competência pela distribuição de medicamentos não está explicitada nem na constituição e nem na Lei. A Portaria MS n. 3.916/98 (clique) estabeleceu a Política Nacional de Medicamentos, em que os entes federativos, em colaboração, elaboram listas de medicamentos que serão utilizados, para serem adquiridos e fornecidos à população.
Ao gestor nacional caberá a formulação da Política Nacional de Medicamentos, pela elaboração da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME); os medicamentos essenciais básicos compõem um elenco de 92 itens destinados à atenção básica. Aos municípios caberá a elaboração da relação Municipal de Medicamentos (REMUME) com base na nacional, com o propósito de assegurar o suprimento de medicamentos destinados à atenção básica à saúde, além de outros medicamentos identificados no Plano Municipal de Saúde.
A seleção de medicamentos que comporiam a REMUME seguiu os seguintes critérios:
- Medicamentos de valor terapêutico comprovado, com suficientes informações clínicas na espécie humana e em condições controladas, sobre a atividade terapêutica e farmacológica;
- Medicamentos que supram as necessidades da maioria da população;
- Medicamentos de composição perfeitamente conhecida, com somente um princípio ativo, excluindo-se, sempre que possível, as associações;
- Medicamentos pelo nome do princípio ativo, conforme Denominação Comum Brasileira (DCB) e, na sua falta, conforme Denominação Comum Internacional (DCI);
- Medicamentos que disponham de informações suficientes sobre a segurança, eficácia, biodisponibilidade e características farmacocinéticas;
- Medicamentos de menor custo de aquisição, armazenamento, distribuição e controle, resguardada a qualidade;
- Formas farmacêuticas, apresentações e dosagem, considerando: a) Comodidade para a administração aos pacientes; b) Faixa etária; c) Facilidade para cálculo da dose a ser administrada; d) Facilidade de fracionamento ou multiplicação das doses.
Parte III
A judicialização da saúde é a provocação do Poder Judiciário, o Estado-juiz, para dirimir contenda que envolve a prestação de serviços de saúde, por parte do Poder Executivo. Forma-se, então, o processo, tendo de um lado o usuário dos serviços de saúde, que busca defender direitos constitucionais e exigindo a contraprestação pelos tributos pagos para a execução dos serviços de saúde, e de outro lado o Poder Executivo, que responde pela não prestação dos serviços.
Justiça seja feita, quando alguém, sentindo-se prejudicado pela não prestação de um serviço essencial, ou pela prestação com baixa qualidade, busca resolver o conflito pelas vias judiciais; o juiz, frequentemente se encontra entre a cruz e a espada, pois de um lado o interesse é a própria vida, a própria saúde, e de outro lado a Administração Pública, com eficácia bem conhecida pelos cidadãos, que falha em devolver benefícios à população contribuinte, na forma de serviços de assistência à saúde, mas que tem respaldo do princípio da reserva do possível.
atuação judicial

O Poder Judiciário faz a interpretação da Constituição e das leis, para defender direitos e assegurar a segurança jurídica. Não são raras as situações, quando o juiz se depara com casos em que a sua decisão implica uma construção de significado para a aplicação de conceitos jurídicos e de princípios, demandando uma ponderação entre direitos fundamentais e princípios constitucionais e concessões recíprocas entre normas.
Quando se tratar de políticas pública relacionadas ao direito à saúde, a ação administrativa pode ser objeto de controle constitucional, como parte natural do ofício do magistrado. O estudo da judicialização da saúde envolve princípios e direitos constitucionais, como a dignidade da pessoa, a vida e a saúde, que nos remetem a um terreno movediço, cujas definições podem ter inúmeras interpretações. Para que o magistrado tenha um posicionamento sobre o assunto, ele deve ter o entendimento completo sobre do quê se trata o pedido. Então, o quê é saúde?